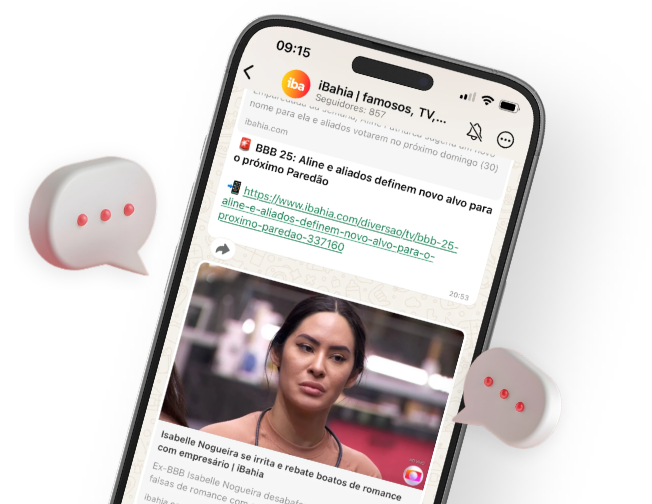No outono de 1973, num dos quartos do hotel Altenburger Hof, em Viena, morria de causas naturais, aos 66 anos, “o maior poeta de língua inglesa da sua geração”. Wystan Hugh Auden, ou simplesmente W. H. Auden, notabilizou-se, entre outros motivos, pelo vastíssimo intelecto, pelo emprego de diferentes técnicas na construção de poemas, por incorporar à sua escrita elementos da cultura popular.

Viagens pelo mundo, o engajamento na Guerra Civil Espanhola, as histórias de amor vividas com o também poeta Chester Kallman e com o dramaturgo Christopher Isherwood marcaram, de variadas maneiras, a vida e a obra do vencedor do Pulitzer de Poesia de 1948.
Leia também:
Genial, afirmam muitos, mas não a ponto de ter-se tornado uma unanimidade. Tido como libertário e libertino, Auden nos fascina pela capacidade de metamorfosear-se em muitos, e pela amplitude da sua criação.
Características de alguns de seus escritos, por exemplo, são as representações da morte. Interessado em psicanálise freudiana, ele escreveu e publicou em 1936 um dos seus mais consagrados poemas, Funeral Blues. Popularizado mundialmente graças ao filme Quatro Casamentos e um Funeral (PolyGram Filmed Entertainment, 1994), diz o poema: “Que parem os relógios, cale o telefone / jogue-se ao cão um osso e ele não ladre mais / que emudeça o piano e que o tambor sancione / a vinda do caixão em seu cortejo atrás”.
Tornados uma espécie de manifesto público de dor e pesar, esses versos são frequentemente reproduzidos em lápides e memoriais, e nos ajudam a pensar como as representações da morte – e em especial da “morte voluntária”, isto é, do suicídio - atraem intelectuais e cientistas de diversas expressões e épocas, pois que exercem grande fascínio sobre a imaginação criativa.

O “problema do suicídio”, como escreve Albert Camus em O Mito de Sísifo (1942), também aparece em inúmeras outras obras literárias que aprofundam ou simplesmente tangenciam a questão. Durante o “Setembro Amarelo”, considerado o Mês de Conscientização e Prevenção ao Suicídio, o tema ganha ainda mais destaque.
Com mais de três décadas dedicadas à reflexão sobre a morte e o morrer, o psicanalista e escritor Marcelo Veras acaba de lançar “A Morte de Si – Quem Matamos Quando Matamos a Nós Mesmos” (Cult Editora). O livro, composto de quatro partes, historia o comportamento do suicídio através do tempo, problematiza o “eu” de quem interrompe a própria vida e “sai de cena”, destaca o ato de escrever de autoras como, por exemplo, a britânica Virgínia Woolf, e, por fim, aborda o que chama de “a solidão dos jovens hiperconectados”.
Ele afirma que se trata de um livro não sobre a morte, mas, antes, sobre a vida. “Todos nós, de uma certa maneira, teremos de nos haver com a nossa finitude, e a escrita pode ter um papel importante de tratamento da dor do existir” – diz.

Em vídeo para esta coluna, Veras destaca a importância terapêutica do escrever, sobretudo quando quem o faz está no “limite da vida”. Nestes casos, do exercício da escrita resultará, talvez, “algo que pode servir como tratamento da dor do existir, e daí um adiamento ou mesmo a remoção da ideia de se matar”.
É o que acontece com Lucas, um dos personagens centrais do premiado “Nunca vi a Chuva” (Galera, 2017), do capixaba radicado no Rio de Janeiro, Stefano Volpe. No livro, após tentar o suicídio mais de uma vez, Lucas é aconselhado pela psicóloga a escrever sobre ele mesmo, e o faz, inicialmente por obrigação, em um diário.
Vemos, a partir dessa escrita, o inteiro desabrochar de um jovem negro, adotado por uma família rica, e que descobrirá, em momento de grande desespero, novos sentidos para o existir, novas razões para continuar vivendo.
Confira a entrevista com Marcelo Veras:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!